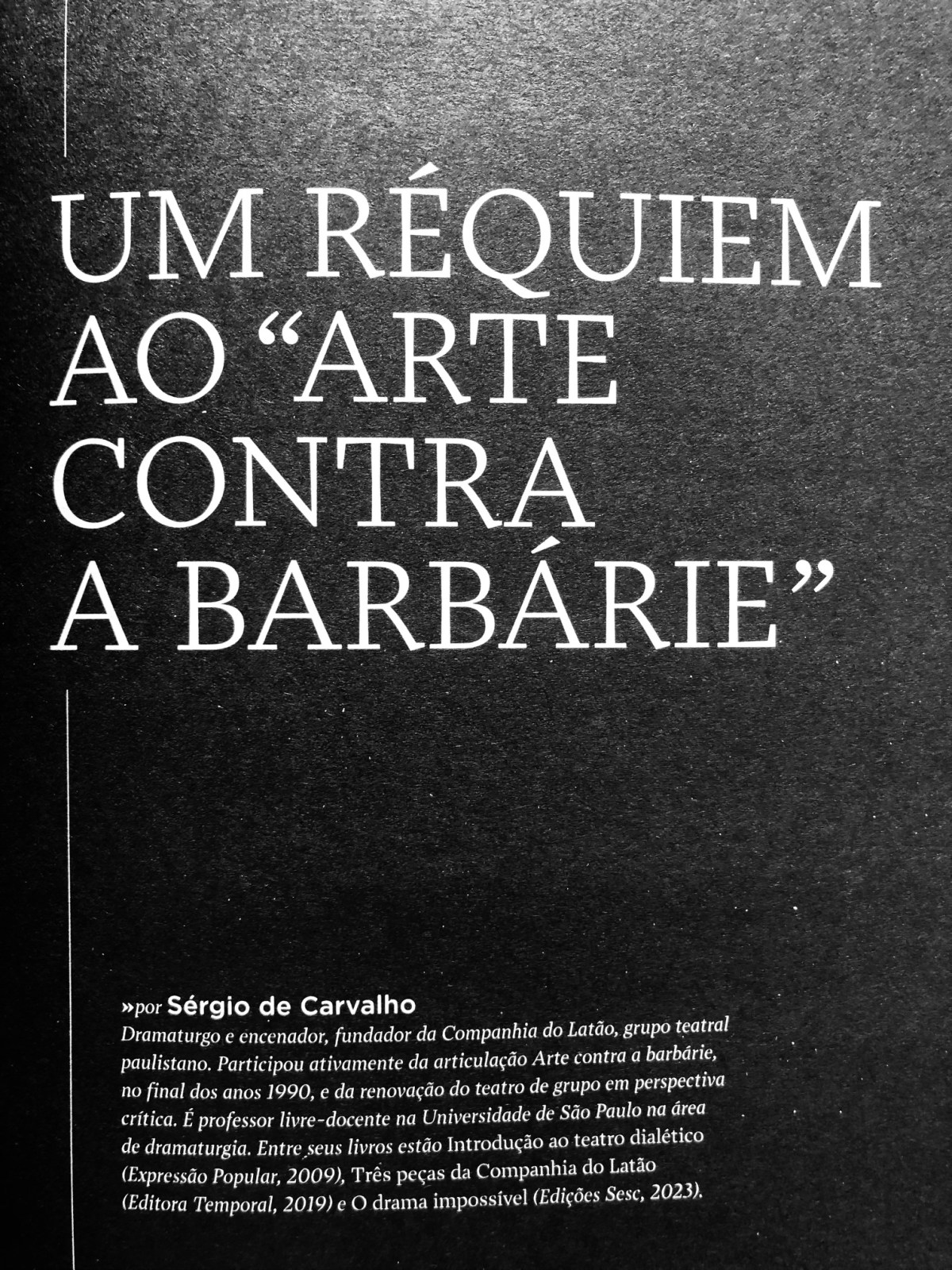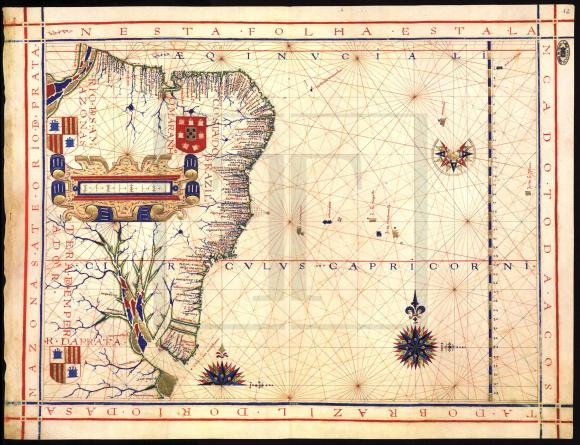Bertolt Brecht produziu uma obra artística em constante movimento. Suas modalidades foram muitas: dramaturgia, encenação, poesia, narrativa, crítica, reflexão poética. Sempre na conjunção entre a teoria e a prática, atenta às condições de produção e ao momento histórico, sua obra acaba por internalizar o princípio da mutabilidade como uma espécie de elemento necessário e constitutivo, daí a variedade de sua experimentação formal. É nesse sentido que as peças realizadas na República de Weimar, durante os anos 1920, são bem diferentes daquelas escritas no exílio, a partir de 1933, ainda que dialoguem com o mesmo projeto.
Alguns de seus trabalhos parecem expor essa condição mutável na própria estrutura, assumindo-se como tentativas (nome com que publicava seus escritos), ensaios, esboços. Outros se mostram como uma realização estética “mais-que-perfeita”, reclamando um lugar entre as realizações clássicas. São posturas complementares de um artista consciente de seu lugar único no teatro do século XX.
Apesar da assinatura nítida, sua obra é devedora de muitas colaborações. Brecht, antes de tudo, se concebia como um organizador do trabalho coletivo, o que se estendia à recepção. Nos anos do Berliner Ensemble esteve interessado em organizar as feições pedagógicas de seu projeto por meio do conceito de modelo teatral, que serviria para indicar que a transmissão de um trabalho teatral complexo só poderia se dar em perspectiva totalizante, sem que se separassem as dimensões técnicas das críticas e políticas. Um modelo assim era feito da interação entre o exemplo concreto e o conceito, algo a ser copiado e superado, um estímulo à atividade criadora:
O ator que utiliza um modelo logo lhe imprime sua marca pessoal e tem toda a liberdade de inventar modificações desde que elas tornem mais fiel e elucidativa a realidade, ou esteticamente mais satisfatória a sua imagem. […] O modelo […] deve ser a priori considerado como incompleto; suas falhas exigem aperfeiçoamento, e é isso precisamente o que deveria estimular os teatros a utilizá-lo. (1)
O conjunto de escritos, encenações e imagens que Brecht produziu para o teatro deve ser compreendido, portanto, a partir de seu inacabamento modelar. Seu movimento interno visa não à reprodução, mas à produção de atividade nova fundada na prática antiga, o que só se torna possível com o desenvolvimento de percepção histórica. É uma obra que repõe a própria crítica, visando à prática. No centro de sua atitude metodológica, assim, está aquilo que poderia chamar de trabalho de contradição (2) desenvolvido em frentes articuladas, como um programa mutável e autocrítico.
A contribuição mais importante de Brecht, desse ponto de vista, se liga a uma utilização radical da dialética marxista como ferramenta teórica e prática, numa conjunção nova. Na medida em que o conceito de trabalho teatral, coletivo e progressista, se põe à frente do de obra a ser fruída, sua dialética formal nunca será puramente interna.
Qualquer juízo apressado sobre os padrões artísticos de Brecht esbarra, como consequência, em contraexemplos que desmentem a primeira impressão. Vai se equivocar aquele que se fiar na imagem de um dramaturgo político no sentido de um expositor de “conteúdos sociais manifestos” com fins de propaganda e conscientização positiva da plateia. E vai errar também quem, ao contrário, tentar separar as conquistas da estética brechtiana de sua crítica de extração marxiana, valorizando apenas suas invenções técnicas. A procura de uma unidade contraditória entre pensamento e ação surge em Brecht, deliberadamente, como movimento de negações.
É útil desmontar, assim, qualquer definição estilística do seu teatro. Cabaré político, ópera moderna, teatro oriental, Realismo crítico, coral narrativo, crônica histórica, cena metateatral são algumas das formas ou estilos espetaculares visíveis em suas peças. Entretanto, nenhuma dessas modalidades praticadas é capaz de gerar – por si só – o movimento de exposição do teatro como instituição ideológica, questão que moveu Brecht a combinar padrões tão diversos. No suposto “estilo brechtiano” nada é constante, salvo um certo gosto pela ironia e inteligibilidade também sacrificáveis quando a verdade contraditória da realidade (o que inclui a realidade estética) assim o exigia.
A rigor, Brecht deixou modelos de teatro dialético sempre novos porque sempre desmoronando. Seu trabalho solicita trabalho, utilização livre e imaginativa, interessada em articular – à luz da atualidade – dimensões poéticas, políticas e teóricas que interagem de modo não especializado e levam em conta o lugar especializado da arte na divisão social.
Uma forma cênica se torna potente menos pelos assuntos novos do que pela capacidade de pôr em crise as convenções com que lida, de se atritar com o sistema teatral vigente e suas expectativas de consumo. Interessa, em última instância, sua função social: com quem a arte dialoga num mundo desigual? Em sua incompletude organizada, o teatro de Brecht almejava uma totalidade utópica para além do teatro. Quando reduzida a um de seus aspectos, como ocorre tantas vezes, a proposta dialética de Brecht é desativada.
A diluição mundial das experiências modernistas é um fato a ser enfrentado. Brecht foi o primeiro a avaliar, em 1942, quando morava nos Estados Unidos, que o mercado capitalista, em sua nova fase estetizada, já fazia uso de técnicas da arte experimental. Técnicas de vanguarda, incluídas as da arte de esquerda e do teatro épico, se tornavam moeda de troca. Coros experimentais já eram usados na publicidade. Ele anota:
Eisler tem razão em lembrar como era perigoso quando púnhamos em circulação inovações puramente técnicas, desligadas de qualquer função social. […] Você pode ouvir música instigante no rádio daqui cem vezes por dia, coros estimulando a compra de Coca-Cola. É suficiente para fazer você exigir l’art pour l’art em desespero. (3)
Crítica do drama e cena épico-política
É na segunda metade dos anos 1920 que a dialética teatral de Brecht começa a se organizar como projeto. São muitas as notas de trabalho sobre seus estudos das obras de Marx e Engels, realizados então sob a influência do teórico marxista Karl Korsch, com especial atenção a questões desenvolvidas em seu livro Pontos centrais da concepção materialista da história. Sua leitura de O capital teria vindo da necessidade de entendimento do funcionamento da bolsa de valores durante a pesquisa para uma peça inacabada, Jae Fleischhacker in Chikago, esboçada a partir de 1926. O marxismo entra nas preocupações de Brecht, portanto, como decorrência de uma prática junto ao teatro político da Alemanha que desenvolvia, então, uma pesquisa já avançada em torno do agitprop de influência soviética e de modalidades teatrais que já se autodenominavam épicas.
Brecht era um jovem poeta já famoso, autor de peças de relativo sucesso (Baal, Tambores na noite e Na selva das cidades) quando se associa à equipe de dramaturgia do teatro de Erwin Piscator em 1927. Não há muita dúvida de que foi em meio a esse processo, assistindo ao trabalho cênico de Piscator e colaborando num coletivo de dramaturgia politizada que ele passou a entender os limites dos modelos teatrais com que lidava até então. A forma coletivizada do trabalho, mediante estúdios e laboratórios de criação, repercutia numa pesquisa em que o critério estético deveria se subordinar ao ponto de vista político. Brecht assim relata a experiência: “O laboratório para a representação correspondia, para a feitura da peça, a um laboratório mesmo. Todo um estado-maior de dramaturgos trabalhava ali em colaboração, com a ajuda e sob o controle de toda uma equipe de especialistas, historiadores, economistas, estatísticos”(4).
Brecht sempre considerou Piscator seu grande interlocutor no mundo do teatro. Reconhecia que sua própria obra dramatúrgica não seria possível sem o encontro com um palco que, em poucos anos, conheceria o apogeu e a crise de uma certa concepção de teatro experimental, aquela fundada na dialética entre o elemento estético e o didático (ou científico).
Foi essa dialética do teatro experimental, animada pelas movimentações proletárias da República de Weimar, que Piscator chamou de teatro épico. Se ele foi mesmo o primeiro a conceituar essa expressão já corrente, como sugerem suas reflexões de Teatro político, é porque avaliou a necessidade de uma cena que viabilizasse conhecimento histórico, o que geraria um atrito com as tendências de drama vigentes, para as quais a história social seguia sendo um pano de fundo atrás da ação, uma ambientação referencial que pouco interferia na essência de uma relação dramática privada e fechada em si mesma.
A grande dramaturgia crítica do tempo de Brecht, de inclinação socialista, ou se alinhava entre os naturalistas ou entre os expressionistas. Em ambos os casos procurou representações de feições críticas, diante da tragédia econômica posterior à Primeira Grande Guerra e da tentativa de revolução comunista na Alemanha, esmagada com a conivência da socialdemocracia que estava no poder.
A vigência relativamente tardia do movimento naturalista alemão se deve às fortes bases lançadas no início do século pelo diretor Otto Brahm, que se apropriou do projeto do Teatro Livre de Antoine criando a Freie Bühne de Berlim em 1899, companhia que se associaria a movimentos de trabalhadores. Também na Alemanha, o Naturalismo gerou uma revolução temática e técnica. Deu estatuto artístico a assuntos da vida social que não tinham lugar no teatro convencional e promoveu um desenvolvimento incomum da arte da encenação, contando ainda com a colaboração de um dramaturgo notável como Georg Hauptmann, autor de Os tecelões, cuja repercussão influiu na politização de uma cena que dispunha de uma rede de teatros públicos (que remonta ao século XVIII).
A avaliação posterior de Brecht sobre o Naturalismo, para ele o primeiro movimento de caráter experimental, responsável por reintroduzir a ciência na esfera da arte, traduz uma crítica já existente na cena de Piscator:
O teatro conseguiu, por um momento, fazer progredir algumas aspirações sociais: emancipação da mulher, exercício do direito, higiene e mesmo emancipação do proletariado. É necessário, entretanto, reconhecer que faltava profundidade às imagens da máquina social fornecidas pelo teatro. […] Se o naturalismo, pela cientificização da arte, pôde exercer influencia social, sem dúvida nenhuma paralisou forças artísticas essenciais, em particular a imaginação, o instinto da representação e o elemento propriamente poético. Os elementos didáticos claramente prejudicaram os elementos artísticos. (5)
De um ponto de vista técnico, a contradição de base do drama naturalista era esta: criaturas arrebentadas expressam em palavras a dor de seu estrago; seres objetualizados entram em cena como sujeitos conscientes, o que transmite a impressão de que poderiam ser culpabilizados pela incapacidade de agir. Como superar a sensação – dada pela forma do drama, sempre moralizante e individualizante – de que aquele problema social não decorre da imobilidade dos envolvidos e se confina só àquele ambiente? Como se contrapor ao sentimento de fatalidade?
A principal alternativa no que se refere à dramaturgia literária, o teatro expressionista, teve um grande crescimento nos anos que sucederam à Primeira Guerra. As peças de Hasenclever, Georg Kayser e Ernst Toller pareciam, à primeira vista, ter superado alguns dos impasses naturalistas na questão da representação da vida coisificada. De um modo geral, extinguiam a expectativa de ação dramática ao recuperar recursos formais clássicos como o coro dos homem-massa ou ao fracionar a unidade do movimento em estações. Sua grande riqueza formal, em torno de configurações experimentais produziu uma cena inventiva e mesmo revolucionária. Pareciam, entretanto, não abrir mão do pressuposto ideológico de que a impotência estava generalizada e o mundo social só poderia ser figurado através de alegorias grotescas em que as figuras centrais são espectros, mortos vivos e homens-coisa.
O que resultava daí era que a perspectiva subjetivista se deslocava das personagens para a estrutura, o que indicava uma compreensão parcial do modelo Woyzeck, que tanto encantou aquela geração: destacava-se a redução à dimensão zoológica diante dos estragos psíquicos nos processos de alienação, o que fazia ecoar romanticamente a nostalgia de uma natureza humana perdida.
Em 1928, no teatro de Piscator, a equipe de dramaturgia da casa debateu a possível remontagem de Tambores na noite, de Brecht, comédia de 1922 sobre um soldado morto-vivo que volta da guerra e encontra sua noiva sendo entregue, pela família burguesa, a outro pretendente. Piscator considerava a peça do jovem Brecht um “drama individual” não porque houvesse um agente positivo em cena (afinal Kragler, o soldado era uma figura mortuária, emblema da alienação) mas porque o seu páthos contaminava uma estrutura que era incapaz de indicar, em seu centro de experiência, que havia, para além do sentimento de absurdo, uma revolução em curso; e que Liebknecht e Luxemburgo estavam ali e seriam assassinados. Enquanto uns naufragam, outros lutam pela melhoria das coisas. (6)
A crítica que Brecht faria mais tarde ao Expressionismo enfatiza a mesma tendência à totalização do pessimismo na forma:
Concebeu o mundo como vontade e representação, e produziu assim um estranho solipsismo. Era a réplica, no teatro, da grande crise social, da mesma forma que o sistema de Mach era na filosofia. Era uma revolta da arte contra a vida. Para o expressionismo, o mundo, estranhamente destruído, existia apenas como visão, criação monstruosa de almas angustiadas. O expressionismo, que enriqueceu imensamente os meios de expressão do teatro e forneceu fontes estéticas ainda inexploradas, mostrou-se completamente incapaz de esclarecer o mundo enquanto objeto da práxis humana. Definhou o valor didático do teatro. (7)
Essas posições, entretanto, que não são fixas na visão de Brecht, como se vê em sua crítica a Lukács quando defende o Expressionismo, surgem em seus escritos na medida em que procura entender uma dialética entre a dimensão estética e a didática (nome que corresponde ao ideal de um conhecimento político do tempo) que não se dá apenas em níveis internos às obras, mas na relação delas com o mundo.
No teatro de Piscator essa dialética foi possível não apenas porque jogou o teatro (a máquina do palco, em sua relação com a plateia) contra o drama, mas principalmente porque orientou seu trabalho para uma crítica da função social do teatro.
Para Brecht, Piscator foi quem empreendeu a mais radical tentativa de conferir ao teatro um caráter didático porque reuniu forças criativas de campos que não andavam juntos. Foi ao mesmo tempo militante do Comunista, colaborador dos grupos de agitprop e dos artistas de vanguarda oriundos dos grupos dadaístas da Alemanha, entre os quais John Heartfiel, Grosz, Walter Mehring e Franz Jung. Aproximou gente de origem diversa em torno da representação cênica de problemas de ordem abstrata: lutas pelo petróleo, guerra, revolução, justiça, questão racial etc.
Mestre no uso técnico da iluminação e dos aparelhos cênicos, ele criava no palco narrativas cênicas com projeções de fotos, filmes, desenhos animados, composições de luz, letreiros, coros, palcos giratórios, esteiras rolantes, deslocamentos da cenografia, bonecos, que eram capazes de compor uma segunda história – mais geral e múltipla –, contraposta à vida dos indivíduos confinados entre quatro paredes. Os elementos cenográficos e a maquinaria poderiam se comportar como um coro grego, e a técnica teatral se oferecia, simbolicamente, como realização avançada da luta proletária. O caso individual da favela de Berlim era mostrado como parte de um capítulo da destruição capitalista geral e apresentado em unidade contraditória com o processo global. A cena se assumia, assim, como épica no sentido de uma estrutura autoexposta, aberta ao debate. Rompia a unidade dramática ao exibir não só o segundo plano da ação à frente do primeiro, mas a própria performatividade, entendida como realidade representacional, à frente da ficção. Na medida em que as conexões teriam que ser feitas pelo espectador, o teatro (com base nessa multiplicação de camadas técnico-narrativas) se convertia em “um parlamento” e o público num “corpo legislativo”, nos termos de Brecht.
A principal parceria direta entre Brecht e Piscator se deu na encenação de O bravo soldado Schweik, adaptada da obra de Hasek (8). O soldado Schweik pertence à família dos tolos sábios, heróis negativos picarescos de comportamento ora positivo ora negativo, comparável ao Carlitos de Chaplin, outra influência muito forte na concepção teatral de Brecht, sempre interessado na comicidade popular. Ele está tão longe de ser a “vítima ideal” da exploração quanto de ser um herói positivo do proletariado. Entra em cena como um boneco posto em marcha pelos superiores, percorrendo as estações do recrutamento, quartel, estradas, granjas, cruzando com multidões de efetivos bonecos, mas nunca chega a lutar no campo de batalha. Um desenho animado feito por Grosz ridiculariza seus superiores, de modo a que “os bastidores se tornem um elemento de ação”(9).
Piscator foi decisivo para o aprendizado dialético de Brecht na medida em que suas encenações épicas e políticas não se opunham aos assuntos dos dramas, mas a sua ideologia formal. A forma não era considerada neutra, mas percebida como construção ideológica. Era preciso, portanto, transformá-la para aprofundar a verdade do tema. E para isso não interessava nenhum experimentalismo vanguardista voltado a si mesmo, e sim uma valorização narrativa da perspectiva coletivizante, discutida com plateias operárias e artistas amadores, que exigiu a procura de novas dramaturgias.
O critério de valor daquelas experiências decorria de sua orientação à política, de seu efeito como pedagogia política, mas também de sua compreensão da arte como trabalho coletivizador, ligado a um movimento social. “Que utilidade poderia apresentar uma cena construtivista, se não fosse socialmente construtiva?” (10). A esse respeito também escreve Brecht:
As grandes experiências de Piscator e as minhas próprias que repetidamente arrebentavam as formas convencionais encontraram seu principal apoio nos quadros mais progressistas da classe operária. Os trabalhadores julgavam a cena pela quantidade de verdade que continha, rejeitavam tudo que fosse mero jogo, como os efeitos mecânicos sem um objetivo definido. (11)
Dialética da desumanização
A primeira das experiências autorais de Brecht com teatro épico, escrita ainda em diálogo com o teatro de Piscator, é a peça Um homem é um homem, esboçada em 1926 e modificada nos dois anos seguintes. Ela corresponde, também, a uma primeira tentativa de incorporação do método dialético de Marx.
Como Schweik, o estivador Galy Gay é um oportunista especializado em explorar as pequenas ocasiões favoráveis que lhe aparecem. O título da peça escancara o tópico modernista da desumanização: um homem será desmontado em cena, um indivíduo será espremido até ser apenas aquilo que todos somos, uma função do capital. O estivador (um trabalhador independente) de um país periférico sai de casa para comprar um peixe. Termina a jornada como um soldado assassino do exército imperialista invasor, uma máquina de guerra. Sofre uma refuncionalização mercantil da qual terá pouca consciência.
Galy Gay não é vítima dos três soldados que o convenceram a substituir um colega de pelotão, sumido. Nem seu caráter oportunista o torna responsável pela sujeição ao exército. Mas em sua trajetória farsesca, as dores se instauram: ele chega ao ponto de “morrer” como Galy Gay para assumir o papel do soldado e de renegar a própria esposa. Não aprende nada sobre seu processo de desumanização, mas sim o público, que se vê diante de uma ausência notável, a falta de drama. A solução idealista – bem como um conjunto de expectativas emocionais – é frustrada. Não é apenas a personagem que está em jogo, é o próprio lugar do teatro.
A despeito da reincidência temática, já não se trata do drama expressionista do soldado-mortuário, na forma de estações, mas de quadros de um processo de geração contraditória da reificação. Para além da justaposição épica do coletivo no individual, a peça esboça o que seria o mais importante no trabalho de Brecht, o uso da contradição radical, ao indicar que a desumanização é uma força objetiva. A mesma coletivização que suprime as diferenças, funcionaliza e dissolve a individualidade, produz realizações concretas. Despersonalizado, o soldado se torna forte. Resta saber para que lado se inclina o processo de coisificação.
São muitas as técnicas de frustração dramática utilizadas nessa peça que daria origem à pesquisa da dialética aplicada ao teatro, transportada das leituras de Marx para a invenção estética: o protagonista não é um trabalhador típico, com consciência de classe, mas atípico, e o mesmo vale para outras personagens importantes. Sua fala elevada e formal traduz um duplo desajuste: internamente, o pobre-coitado que fala a voz de outra classe sugere alguém que deseja ser outra pessoa; externamente, a estilização contradiz a expectativa do acordo identificatório do público – baseado em estereótipos de conciliação – entre linguagem e condição social. Onde esperávamos o conhecido surge o estranhável. Ao público caberá decifrar as causas sociais de um formalismo que é da personagem mas que lança dúvida sobre o teatro.
Brecht passa, a partir daí, a experimentar um procedimento que tem poucos precedentes na história do teatro: a objetualização dos homens objetualizados, capaz de suscitar reflexão histórica. Procura uma “desumanização da forma” em processo, exposta para que também se evidenciem os elementos característicos de processos sociais.
Aquilo que foi projetado pela cena épica do teatro político experimental de Piscator deveria ser internalizado na estrutura dramática, que deveria agora ser capaz de concretizar em gestos as contradições. Não seria mais preciso apenas confrontar as contradições objetivas (demonstradas pela máquina do palco) às contradições subjetivas do drama. O próprio drama como forma se expunha nessa dramaturgia épico-dialética, que levava em consideração as expectativas de gênero e de funcionamento do teatro. Os primeiros passos dessa pesquisa, entretanto, dependiam de um palco igualmente experimental, em contato com setores progressistas da sociedade.
Brecht desenvolvia, assim, a ideia de uma simultânea e relacional arte-do-ator e arte- do-espectador, pois a tarefa da peça era estimular a atividade imaginária e intelectual, por meio de negações. A cena mostrava, invertendo o realismo, “o que a vida não deve ser”.
Dialética da luta de classes
Em poucos momentos de sua vida, Brecht esteve tão próximo da experimentação teatral quanto no fim dos anos 1920. Em duas frentes, quase opostas, ele realizou experimentos artísticos ligados a seus estudos de dialética marxista.
Para o agitado ambiente da cultura operária e dos festivais da nova música alemã, ele escreve as chamadas peças didáticas (ou peças de aprendizagem). Essas impressionantes realizações, talvez as mais inovadoras peças de Brecht, foram produzidas em contradição com as expectativas da cena comunista alemã, em diálogo com as práticas da vanguarda musical do tempo, que se interessava por arte política. Importa mencionar que são, entre seus escritos, aqueles em que o pensamento dialético não aparece só na atitude formal, mas se configura como o verdadeiro assunto e razão de ser. É o que se vê, muito diretamente, por exemplo, em Os horácios e os curiácios. Mas o mesmo vale para todas as outras peças chamadas didáticas – A peça didática de Baden-Baden sobre o acordo, A exceção e a regra, Aquele que diz sim e aquele que diz não, A medida (ou A decisão conforme a tradução). O que está em jogo é a ativação da visão dialética dentro da militância, a partir da práxis do teatro.
A rigor, as peças didáticas não são feitas para serem mostradas e sim para que os atores pratiquem a arte da contradição ao desempenharem os diferentes papéis. Elas não ensinam porque são vistas, mas porque são atuadas e debatidas. O sistema ator-espectador é suprimido. Interessa que todos se compreendam como ativos num trabalho conjunto. São obras instrutivas sempre que põem em choque os pontos de vistas da atuação, e por isso, a rigor, não têm necessidade de público. Quando eventualmente mostradas, exigem alguma modalidade de participação coral dos que assistem. Estão, inclusive, sujeitas a interferências da direção ou da dramaturgia durante sua execução.
Brecht pensava nessas peças como pequenos experimentos de pedagogia dialética, capazes de contribuir para o gradativo conhecimento do “Grande Método” e animar o debate sobre uma nova produtividade coletiva.
Como técnica teatral elas parecem verificar a concepção segundo a qual “onde há dualismo não há dialética”. Os enunciados temáticos mais diretos põem em cena categorias opostas como individualismo versus coletivismo. Mas o que importa é o trabalho crítico e metateatral de superação das oposições simples. Como se vê em A peça didática de Baden- Baden, o ato heroico individual é sempre insuficiente ou equivocado, mas ao mesmo tempo sua condenação coral é ambígua na medida em que vivemos a dor do caso individual apresentado em sua historicidade. Tudo parece uma armadilha para os espíritos idealistas. Nenhum polo isolado contém a verdade plena e, no fim das contas, os erros individuais parecem ser também coletivos, assim como as decisões coletivas são também individuais. O pensamento em movimento se torna o protagonista da ação sem que haja mais diferença entre ativos e contemplativos, entre filosofia e política.
É importante destacar que nas peças didáticas Brecht apresenta pela primeira vez aquele que será um de seus temas marxistas mais fortes: o da naturalização das imagens do mundo. Leitor de A ideologia alemã, ele escreve muitos versos sobre as ideias e visões que se naturalizam e geram sentimentos de imutabilidade. “Nada é natural”, diz o prólogo de A exceção e a regra, peça em que assistimos ao esforço absurdo de justificação de uma ordem jurídica servidora do capitalismo. “A desgraça é natural como a chuva”, dirá Joana Dark em chave irônica, proclamando a adesão ao estabelecido. Não é no plano do assunto, entretanto, que a necessidade da desnaturalização assume um sentido operativo na obra de Brecht. No início dos anos 1930, a categoria passa a atuar na base de sua teoria estética.
A crítica da ideologia de base marxista começa a ser estendida para campos em que não interessam apenas os termos e conceitos. Se é verdade que ele se interessa por alguma espécie de desmascaramento da falsa consciência do espectador no campo dos temas sociais, interessa-se muito mais pela sondagem da ideologia dos ritmos, formas e padrões sensíveis, aquela que não se apresenta na lógica discursiva, mas se manifesta em estruturas do imaginário capitalista. É diante disso que um dia escreverá, no Pequeno Organon: “não tomar partido em arte é tomar o partido dominante”.
Crítica à arte como mercadoria
A consciência teórica – e a procura de ferramentas estéticas novas – surge como questão no início dos anos 1930 após uma experiência que Brecht avalia como um fracasso. Ao mesmo tempo em que colaborava com o teatro anticapitalista operário, ele seguia suas atividades como artista profissional em Berlim. Foi nesse contexto que escreveu peças musicais que o celebrizaram mundialmente devido à parceria com Kurt Weill, Mahagonny e A ópera de três vinténs. São realizações teatrais vivas, paródicas, cuja finalidade mais radical – além de gerar receita – parecia ser o confronto com as expectativas convencionais do mercado de artes, numa espécie de deliberado “sacrifício ao absurdo do gênero”.
A título de contradição com sua situação produtiva no mercado de artes, Brecht decide encenar, com as canções e números desses espetáculos, o próprio funcionamento do aparelho cultural burguês. O comércio de “entorpecentes culturais” é mostrado na perspectiva da dissipação das energias revolucionárias. Por baixo do tema mais evidente da vida marginal e da concorrência no submundo, o que vemos nas duas peças é a reprodução torta do funcionamento da indústria burguesa do entretenimento. O papel do artista como abastecedor do aparelho da cultura entra em cena indiretamente.
Apesar das experiências formais inovadoras, da qualidade dos versos que fez com que as canções dessas peças se tornassem hinos subversivos de Berlim, das quebras da lógica da ação, do amoralismo, das imagens grotescas, da descontinuidade dos gestos e da pesquisa de
uma música narrativa, o resultado para Brecht estava distante da almejada estética das separações.
A intenção geral, tão discutida nos ambientes da nova música de esquerda, de virar do avesso o modelo wagneriano de fusão das partes no todo do Ritmo – e gerar uma divisão no público de acordo com pontos de vista de classes – não se realizava. A forma não superava o acordo prévio do gênero, apenas deslocava-o para um campo temático antiburguês, sem abalar a primazia dos meios de produção (12).
Esse sucesso comercial e relativo fracasso do projeto de um teatro dialético (que se mostraria efetivo nas peças didáticas) geram, entretanto, um resultado notável do ponto de vista teórico. Brecht passa a sistematizar sua teoria do teatro épico como autocrítica, como verificação de enganos, e dá origem assim a uma conceituação que influenciaria o trabalho de gerações.
As “Notas sobre Mahagonny” e “Notas sobre A ópera de três vinténs“, publicadas em 1931, podem ser consideradas seu primeiro conjunto de textos de teoria do teatro capazes de relacionar a pesquisa formal aos novos assuntos teatrais e à relação com o sistema produtivo.
A constatação da limitação diante da engrenagem anima o descolamento teórico. Anos mais tarde ele escreverá no Livro das reviravoltas: “O pensamento é algo que segue às dificuldades e precede a ação”. Sua notável teoria teatral é forte porque sempre examina a dificuldade, sem deixar de estimular uma prática futura.
Uma inovação puramente estética, que não ameace a função social da engrenagem pode ser facilmente neutralizada. A dialética do trabalho teatral brechtiano dali por diante não deixará de considerar a mediação da forma mercadoria em qualquer manifestação da cultura. Naquele momento da República de Weimar, entretanto, quando a incorporação dos coros épicos pela propaganda de Coca-Cola não parecia ainda um problema real, quando era produtiva a luta entre texto e cena, entre diversão e crítica política (ainda não reprimida pela escalada da reação nazista), seus escritos comemoravam a inovação técnica e saudavam uma atitude experimental que mais tarde lhe pareceria impraticável.
É o caso, por exemplo, do esquema que diferencia o teatro épico do teatro dramático, que está longe de apresentar oposições simples, mas que se difundiu por ter seu lado, numa leitura desatenta, de fórmula: para o teatro épico já não interessa o desenvolvimento linear e progressivo da ação, mas os saltos, a descontinuidade, o processo da ação concretizado em (12) partes independentes. A ideia do todo deve organizar o fragmento crítico a ser analisado pelo espectador.
Ali, entretanto, esses aspectos técnicos não são absolutos. Brecht já conectava a conquista estética com a função social ao propor a produção teatral de “imagens praticáveis do mundo”. Será essa uma das tarefas de seu teatro, oferecer, como faz um cientista, modelos de ação-reflexiva, imagens manejáveis do real, o que não implica nenhum realismo a não ser aquele que também mostrar o “teatro em sua realidade de teatro”. Toda a teoria teatral brechtiana desenvolvida nos anos de exílio propõe um trabalho sobre a transformabilidade das imagens. É por essa razão que uma arte como a da atuação não existe sem a arte da observação. Um poema famoso aos atores dinamarqueses diz que “para observar, é preciso comparar; mas para comparar é preciso já ter observado”.
Identificação, estrangeirização
O que parecia mais ou menos claro, àquela altura, é que essa dramaturgia épico- dialética teria que enfrentar, em primeiro lugar, seus demônios internos. A ênfase brechtiana na importância de se abandonar “alguma forma de identificação” é também um apelo a que a relação teatral se funde na mutabilidade. A expectativa de identificação é também a expectativa de uma consciência positiva: o público vê o que o herói vê, raciocina por semelhanças, atento ao presente não ao ausente da cena, estando menos permeável a sondar as diferenças e pressões abstratas. Dirá Brecht que é “impossível identificar-se com seres transformáveis, participar de dores supérfluas, abandonar-se a ações evitáveis”(13), daí a recorrente criação dramática de caracteres fixos, de tipos sociais, de figuras ideais, mesmo que psicologicamente contraditórias.
O Efeito de Estranhamento – mais ao pé da letra, de “estrangeirização” – que surge em suas reflexões na década de 1930 não decorre desta ou daquela abordagem técnica, mas da possibilidade de que o desfrute estético se dê sobre uma base que não seja a identificação positiva. Pode ser compreendido como uma alienação da alienação, uma objetualização dos homens objetualizados, capaz de suscitar reflexão crítica. Os elementos característicos dos processos sociais se manifestam quando a representação abre brechas no movimento dos comportamentos particulares, quando a segunda dimensão de um acontecimento comum, e da própria cena como forma, se revela.
Essa procura de um movimento além do movimento, que requer suspensões, será feita como indagação poético-crítica, a partir do desvendamento do fluxo dramático convencional. No tempo presente da cena assistida abrem-se outros tempos – sua história anterior, seu futuro possível. Sobre o comportamento humano observado, projetam-se outros comportamentos: por que aquela personagem agiu desse modo, e não de outro? E por que a causalidade desse ato não parece, agora, puramente individual? Estranhar, para Brecht, não é apenas retirar de um fato ou caráter sua aparência de imagem já conhecida, em favor do espanto filosófico. Distanciar (ou estranhar, ou ainda estrangeirizar) é historicizar. Talvez seja essa a única definição geral de um conceito que depende de uma interação entre atuação, encenação e dramaturgia e que diz respeito a um trabalho coletivo do olhar. “O olho produz”, escreve Brecht em A compra do latão. E o efeito de estranhamento é uma “desnaturalização”, nos termos da crítica da ideologia marxista, que não incide apenas sobre as ideias e conteúdos da peça, mas também sobre sua dimensão estética. Depende de uma mobilização que ocorre quando a própria representação se abre para a crítica anti-ideológica.
É importante que se entenda o Estranhamento muito mais como efeito sócio-crítico, tal como o nome evidencia, do que como técnica, sendo antes uma relação entre produção e recepção ligada à ideia de uma imagem praticável que oferece sua dimensão negativa. A incidência de efeitos de distanciamento puramente “formais”, em base “sugestionadora” é registrada nos escritos de Brecht como uma possibilidade de uso “demoníaco” do procedimento porque autorreferente. Não são estes os considerados pelo teatro épico (14).
O Efeito de Estranhamento é, assim, uma demanda de imaginação social, um estímulo a que se projete imaginariamente, para além da cena vista, outra cena possível, o que permanecerá sempre no nível estético do irrealizado. Do mesmo modo que o comunismo só pode ser compreendido como movimento em relação ao capitalismo, não como “estado”. A hipótese dialética depende da construção conjunta, entre palco e plateia, de uma nova postura, uma nova atitude, um novo gesto.
Atuação gestual
É evidente que um Estranhamento assim conceituado se abre a muitas possibilidades técnicas, que incidem sobre todos os aspectos da encenação, o que inclui uso da música, do cinema e da iluminação, questões também contempladas nos escritos de Brecht. Mas de modo
geral é possível dizer que qualquer concepção mutável de técnica ou de estilo épico, tal como Brecht a praticava, considerará fundadoras as relações surgidas da interação complexa entre atuação e dramaturgia. O princípio do gestus, gerado a partir desse núcleo, se expande para o conjunto da cena.
A admiração que Brecht tantas vezes manifestou em relação à atitude “materialista e chã” de atores cômicos que o influenciaram, como Karl Valentim e Chaplin, parece estar sempre ligada à observação de uma capacidade de cisão interna que se desdobra na relação com o espectador. Num dos textos do Outubro Teatral de 1922, do qual Brecht certamente teve conhecimento “plagiotrópico” (na expressão de José Antonio Pasta Jr.), o teatrólogo russo Slonimski discute o espetáculo A morte de Tarelkin, de Meyerhold, observando que “os atores distanciam-se; olham o público, dirigem-se a ele em apartes e veem-se representar”. Na mesma publicação, Soloviov e Mokoulski afirmam, sobre o teatro meyerholdiano, que a tarefa primeira do novo ator é “revelar a natureza social da personagem” e para este fim utiliza dois meios, aos quais denominam “antes da representação” e “representação destruída”. O primeiro é uma pantomima preparatória, inspirada no teatro oriental, que prenuncia a sequência de acontecimentos. “Quanto à representação destruída”, trata-se, na verdade, de um aparte: “parando de fazer subitamente a personagem, o ator interpela diretamente o público para lembrá-lo que está representando e que, na realidade, ele e o espectador são cúmplices do mesmo jogo” (15). O próprio debate sobre o conceito de estranhamento já era realizado pelos formalistas russos (16).
Acompanhado de Meyerhold, em 1935, pouco antes da perseguição estalinista que resultaria na morte do encenador russo, Brecht assiste à apresentação do ator chinês Mei Lan Fang, mencionado no ensaio Os efeitos de distanciamento na arte dramática chinesa. Neste trabalho, descreve a técnica notável do artista representar como se fosse espectador de si próprio. Quando, por exemplo, representa uma nuvem, “o ator chinês separa, pois, a mímica (representação do modo de observar) do gesto (representação da nuvem), mas este nada fica perdendo pela separação; a posição do corpo provoca uma reação na fisionomia e confere-lhe toda sua expressão”(17).
O que parece estar em jogo aí é menos a capacidade de dualizar-se e mais a interação contraditória e mutante entre sujeito e objeto da imagem. Foi o filósofo e crítico Walter Benjamin quem chamou a atenção de Brecht para o caráter gestual de seu teatro. No programa de Um homem é um homem ele escreve que “a mais alta realização do ator”, para Brecht, é “tornar os gestos citáveis”, e que a tarefa maior da direção épica é “exprimir a relação existente entre a ação representada e a ação que se dá no ato mesmo de representar” (18).
Essa suspensão do fluxo do movimento real para que as operações estéticas se tornem visíveis como citações não implicam, contudo, a elaboração de um estilo de atuação definido, podem se dar numa cena altamente estilizada ou realista. A rigor, será na confluência plena entre atitude realista e estilização que Brecht imaginou sua cena gestual. A busca de uma suspensão nos pontos de contradição não deve ser confundida com uma exposição metateatral porque ela pode ocorrer de modos variados, desde que o “rio salte do leito” de sua temporalidade dramática.
O decisivo para que a contradição se efetive é que ela se dê, em algum nível, como operação transestética, configurando uma gestualidade de implicações sociais. A procura do gestus será a de relações que vinculam os homens entre si e a uma determinada época.19 É nesse sentido que o conceito não é puramente interpretativo ou dramatúrgico. Parece referir- se, diante da variabilidade com que surge nos escritos brechtianos, a um operador da concretude de uma dialética histórica.
Quando numa cena realista uma mulher pobre, em meio a uma briga com o marido, toma uma cadeirada na cabeça e se agacha – não para lamentar a dor da agressão – mas para juntar os pedaços do objeto quebrado, temos um gestus na medida em que o fluxo dramático se volta sobre si próprio e dá lugar à dúvida sobre o comportamento imprevisto mas possível. A perplexidade se estende à nossa expectativa de vitimização. Quando o rapaz pobre decide pular da janela – após um jantar com a família em que sua condição de desempregado inútil lhe é esfregada na cara – e antes do salto para a morte tira o relógio e o deposita num canto, temos nesse gesto realista (do filme Kuhle Wampe) o mesmo refluxo da convenção, o que nos devolve à reflexão sobre a dinâmica social. Em ambos os casos, sem que a estilização precise se evidenciar, o gestus materializa a contradição.
Um teatro feito de gestus é aquele que desenvolve núcleos de contradição mobilizadora. O gestus social torna-se, assim, um conceito importante como exigência de dialética, como produção de uma dimensão viva (o que não implica uma configuração realista, mas atitude concreta) capaz de estimular considerações de ordem abstrata.
Num dos seus mais importantes textos sobre dialética, o Me-ti ou o livro das reviravoltas, Brecht escreve: “Muitos não entendem de entrada o Grande Método porque dos dois elementos integrantes, o observador e o observado, só tomam a sério um: o observado, e atribuem a nosso pensamento uma impressão e uma inconsistência que o objeto pensado não tem”(20).
Materialidade exposta
A teoria teatral brechtiana surge, assim, em interação com uma prática que tinha consciência sobre sua situação produtiva. As mais altas realizações teatrais dos últimos anos de Brecht na República de Weimar foram as peças A Santa Joana dos matadouros, a adaptação do romance de Gorki, A mãe, e os escritos políticos do O processo do filme A ópera dos três vinténs (quando comenta o “experimento sociológico” de processar o estúdio cinematográfico a quem vendeu os direitos de sua peça). Elas abriram novos caminhos de uma experimentação dialética que só poderia se dar na proximidade de uma cena teatral extremamente avançada, com grande desenvolvimento técnico e político.
A Santa Joana dos matadouros pode ser considerada uma obra-prima não apenas pela inventividade paródica e poética de sua forma coral, mas por internalizar na estrutura o tema da crise capitalista de 1929. Não há cena que não seja a de um processo em crise: as personagens estão em relação contraditória com suas classes (Bocarra trava luta de morte com outros capitalistas), a unidade dos coros proletários que vivem a greve é abalada pelas dificuldades do real, o discurso dos líderes comunistas é ambiguamente ideológico, o aprendizado da religiosa Joana (também contraditória em relação à venalidade dos boinas- pretas) será sobre a impossibilidade da conciliação humanista em meio às classes em luta. Mas a consciência da protagonista corresponde a sua derrocada pessoal: transita do discurso da não-violência humanista ao da necessidade da violência no mesmo movimento em que é “canonizada” como inocente útil. A paisagem industrial norte-americana, inspirada pelo imaginário de um capitalismo hollywoodiano e autodevorador, encontra sua dimensão grotesca numa peça de atualidade impressionante, em que a dimensão mercantil atravessa todas as instâncias.
A contrapartida à negatividade extrema de A Santa Joana dos matadouros é a comovente dialética do aprendizado político de A mãe, em que a tomada de consciência sobre a luta de classes se torna anti-ideológica porque toda feita de perdas, de embates e derrotas diante do esforço de aprendizado e da estupidez de uma reação policial que não poderá durar para a sempre. Por decorrência do tema, que impõe o recurso eventual à identificação, acaba por ser uma das peças mais inventivamente épicas do teatro brechtiano, com linguagem abertamente narrativa.
Nos anos seguintes, após a saída da Alemanha nazista, o trabalho de Brecht será marcado cada vez mais pelo afastamento daquelas condições experimentais que só foram possíveis em tempos de esperança e lucidez em relação ao fracasso da revolução alemã.
Talvez a última expressão dessa cena materialista de Weimar, ainda desenvolvida no exílio, são os fragmentos dramatúrgicos aos quais retorna periodicamente. Em seu Diário de trabalho, em fevereiro de 1939, pensando em como evitar o risco de dramatização de peças baseadas em figuras centrais, Brecht escreve que deveria voltar a estudar os fragmentos Fatzer e A padaria, para ele os mais elevados modelos, escritos “do mais alto padrão técnico” (21).
A incompletude não permite afirmar se Brecht pensou esses fragmentos, cujas primeiras versões remontam ao fim dos anos 1920, como peças didáticas. Mas temas recorrentes dessa fase, como o da “demolição do heroísmo” e a “despersonalização como escola de revolução” aparecem tanto na história dos quatro soldados que fogem da guerra, tema de Fatzer, como na irônica dialética entre coro dos desempregados e indivíduos empreendedores, de A padaria, cujas lutas de morte aludem à teoria e à prática do “estado de exceção” na Alemanha (tema benjaminiano que é figurado até no nome do protagonista).
As individualidades atípicas
O fato é que a relação dialética entre a dramaturgia de Brecht e a atualidade se modifica nos anos de exílio. Amplia-se a dimensão teorizante de uma escrita teatral feita para um palco incerto. E as peças procuram incorporar, dentro do possível, a ausência de uma cena crítica e de elencos politizados (o que ajuda a entender a diminuição das formas corais e o uso da estruturação com protagonistas). A contradição entre teatro e drama deverá ser internalizada na linguagem. Isso gera, evidentemente, alterações nas formas da dialética dramatúrgica até então praticada. Questões que interessavam à frente antifascista de escritores (como o diálogo entre a arte de esquerda e os clássicos do Iluminismo, o Realismo crítico e a comédia popular) passam a ser também buscadas na fatura, sempre com soluções inovadoras, por um trabalho teatral que se dá à procura de interlocução.
Em certo sentido, as peças começam a ser escritas como um repertório para o futuro e determinadas simplificações nas linhas de ação visam a configurar uma imitabilidade que garantisse a transmissão histórica de seu aprendizado em tempos de desastre. Surgem assim representações que ora se aproximam da alegoria oriental (expressão de um impasse histórico) ora de um classicismo shakespeariano (expressão de uma luta de épocas).
É compreensível, portanto, que no mesmo comentário em que elogie o padrão dialético de A padaria e de Fatzer, ele registre a autocrítica: “Vida de Galileu é tecnicamente um grande passo para atrás, como a Senhora Carrar é oportunista demais” (22).
A regressão técnica de uma peça como Galileu era, contudo, provisória. Em fins da década de 1930, Brecht passa a reescrever seus rascunhos de modo mais livre, pensando em formas de “desenvolver a técnica épica e voltar de novo ao padrão”, pois “para uma gaveta da escrivaninha não é preciso fazer concessões” (23).
Passa a se interessar cada vez mais pela dialética entre elementos vivificadores e estruturas críticas, perseguindo uma espécie de atitude realista “do tipo que a dialética pode viabilizar”, menos vinculada a qualquer obrigação de explicitar na forma a posição política.
É sintomático, assim, que essa notável produção pareça a muita gente como um “amadurecimento” na obra teatral de Brecht, avaliação que decorre de sua semelhança estrutural com o drama. Se de fato não chegaram a se converter em “graves regressões técnicas” isso só se deu porque seu autor conseguiu realizar nelas impressionantes concretizações gestuais na forma, que revertiam qualquer possível risco de subjetivação simplificadora do processo.
O Galileu reescrito não será, assim, o drama do cientista moderno contra o sistema arcaico da Inquisição (convencional oposição entre indivíduo e sociedade). Na nova versão a personagem título será o contraditório homem de conhecimento, professor da universidade que já vive numa república capitalista e que, para comer melhor e ter mais tempo para a pesquisa, negocia aulas, copia invenções alheias, e decide se mudar para perto da Roma católico-monárquica, pondo em risco a vida de empregados e família. Nesse movimento de mercantilização do trabalho, a função da ciência se descola de sua origem: algo que deveria servir para melhorar a vida de todos, que se destina à emancipação de todos os homens, se torna privilégio de especialistas, instrumento do poder econômico.
Brecht naqueles anos parece estar influenciado pela leitura da Filosofia da História, de Hegel, que lhe ajuda a figurar “o positivo e o negativo em qualquer fenômeno histórico e fazer dessa polaridade a causa do desenvolvimento posterior” (24). Nas chamadas grandes peças de Brecht ele narra processos em torno da dialética de indivíduos contraditórios. Como em Shakespeare, sobretudo em suas peças históricas, é recorrente a configuração de um estilo de crônica, assumido em Mãe Coragem.
Na história dessa vendedora ambulante de secos e molhados que põe os filhos para trabalhar em meio às guerras religiosas do século XVI, vemos a pressão dos processos de guerra (análogos aos da Europa de seu tempo) se irradiarem para a vida comum. A Mãe Coragem perde seus filhos no mesmo campo de batalha que viabiliza seu sustento. As artimanhas da comerciante se desenvolvem em unidade contraditória com as da mãe. Mas as perdas da mãe são vidas. A proximidade do risco (que alegoriza o apoio da pequeno- burguesia alemã à guerra nazista) custa sua família, e sua falência é a de seu tempo. Seu processo dramático se dá sem qualquer consciência positiva.
Mesmo nas grandes peças, não são os caracteres que ocupam o “centro de angústia” da estrutura. Apesar da novidade do detalhamento subjetivo em sua dramaturgia, a contradição entre motivações pessoais e sociais se manifesta nos gestos concretos. São individualidades que surgem em cena em relativo desacordo com a condição, por isso transmitem a impressão de um déficit moral, de um amoralismo constitutivo. Sua atitude “dramática” sempre nos parece falhada, não identificável, múltipla. A dualidade entre imagem existencial e papel social, que se torna exasperante para a própria personagem, projeta campos de força sociais maiores.
A variação das formas dessa dialética épica de embocadura clássica é enorme. Surgem estratégias muito diferentes. O senhor Puntila e seu criado Matti, por exemplo, é a comédia popular do proprietário rural que oscila de caráter no trato com seu motorista: sentimental e fraterno quando bêbado, impiedoso e distante quando sóbrio, tema de Chaplin. Nos dois casos, não assina a carteira e não paga direitos trabalhistas. Sua volúvel “ética de fundo emotivo” (a expressão é de Sérgio Buarque de Holanda) acaba por produzir uma dialética perversa, do tipo senhor-escravo: a despeito de sua consciência do privilégio relativo, o motorista averigua os estragos de uma intimidade que disfarça e aprofunda a dominação de classe. Graças à filha e ao conjunto dos empregados, podemos nos distanciar dessa perversidade de trato que se reproduz como oscilação fechada em si própria, e que se mostrará insuportável para Matti.
Numa parábola de ares orientais como A boa alma de Setsuan (a rigor é um título masculino, algo como O bom ser humano de Setsuan), o encaminhamento é de sentido trágico como raramente ocorre em peças de Brecht. A pobre e generosa prostituta Shen Te recebe um presente dos deuses, uma quantia em dinheiro que será convertida em capital: uma pequena tabacaria. Evolui, então, como capitalista e precisa lançar mão de um alter-ego frio, Shui Ta, cuja função é organizar tratos em que não pode haver mais favor nem ajuda mesmo em relação a amigos e familiares. As relações passaram a ser atravessadas pela mediação econômica. Sua paixão por um aviador, a gravidez geram um pêndulo trágico que paralisa a estrutura, desembocando num arbitrário tribunal onde a própria peça parece ser examinada.
Em O círculo de giz caucasiano, também de inspiração asiática, o reincidente tema da bondade retorna na fábula de Grusha, uma empregada da corte a quem é entregue uma criança abandonada pela mãe, o pequeno Miguel, filho do governador, esquecido durante uma revolta palaciana. Após ver o pai do menino ser decapitado, após uma noite em claro velando a respiração de um bebê largado nos escombros, é acometida da “terrível tentação da bondade”. E foge com ele, como a “louca Margarida” de Brueghel, rumo às montanhas. Em sua peregrinação, atrás de teto, comida, e depois de muitas tentativas de se livrar do pequeno perigoso, ela “se produz” mãe. Isso se confirma no gesto religioso do batismo: joga fora as roupas ricas da criança e a veste como pobre, agora filho seu. Quando a mãe de sangue retorna, tempos depois, o caso será julgado pelo beberrão juiz Azdak, que faz uso da lógica burguesa para salvar a vida dos miseráveis.
Os padrões formais dessas peças não podem ser descritos de modo tão sucinto. Seu simultâneo apelo e recusa ao processo dramático se dá por efeito do desenvolvimento descontínuo e irregular, dos saltos e da multiplicação épica da ação. O círculo de giz, por exemplo, decorre de uma convenção estabelecida no início pela qual um cantor encena a coisa toda. É uma peça de narrativas concêntricas: há um prólogo de 194 em que um grupo de camponeses soviéticos se reúne para discutir o direito à propriedade, a narração é cantada.
O recurso à adjetivação dramática, decorrente das perguntas sobre temas como a bondade, a não-violência, a ajuda, aparece como estratégia de identificação provisória. As peças desse período aumentam as expectativas dramáticas para mais fortemente frustrá-las. O dramaturgo produz o que costumo chamar de “armadilhas morais”: a cena lança no palco uma pergunta de ordem ideológica, reforçando a expectativa humanista, mas a questão não pode ser respondida com base na responsabilidade individual. É preciso criticar as condições que tornam aquele egoísmo ou violência necessários. Onde pensávamos haver uma situação dramática, conflito dos atos justos e injustos, surge um processo cambiante que não se resolve no campo ideológico, mas na relação entre vida material e representação.
Em todas essas peças vê-se a invenção de inúmeros recursos gestuais e de linguagem que configuram um material poético dos mais criativos do teatro moderno. Também por meio delas a totalização não decorre de uma subjetividade central que, entretanto, aparece nessas peças com invenção de arte, o que contraria qualquer acusação de frieza ou déficit subjetivo.
Em cena, vemos personagens cuja aparente crueldade é burrice, cuja bondade é submissão, cuja rebeldia é teimosia. Os pontos de vista se multiplicam em detalhes contraditórios em que os gestos surgem como lapsos que contradizem palavras. Será um mundo em que há sempre dinheiro e trabalho, composto por muitas personagens que não ocupam o centro da ação, mas a determinam, a coletivizam, a expõem como processo geral. Mais do que isso, as próprias articulações cênicas sugerem que o existente não existirá sempre, que todo acontecimento pode mudar de maneira imprevisível.
Desespero e vida
Numa anotação de seu Diário de trabalho, de 26 de março de 1942, Brecht comenta alguns escritos do físico Planck e sublinha a seguinte passagem:
A estatística é a lei que rege o reflexo dos elétrons no cristal. Determina o comportamento de grandes quantidades de elétrons, mas falha quando se trata do comportamento de elétrons isolados. […] O materialismo histórico também mostra esta imprecisão em relação ao indivíduo.(25)
A dialética do teatro se constrói num lugar que não é o da previsibilidade sociológica dos grandes movimentos coletivos, nem o da imprevisibilidade completa de indivíduos supostamente livres. A questão do determinismo ou indeterminismo, diz Brecht, “é desesperada”.
A procura de uma imagem praticável pressupõe superar tal desespero que só surge quando se suspende, se paralisa a dialética, quando ela regride a dualismos irresolvíveis ou oposições oscilantes. De fato, há situações históricas em que isso ocorre. E o próprio Brecht sentiu, como artista, o quanto seu interesse em contar uma parábola para a “edificação geral”, o quanto seu apego ao projeto didático, diante do gesto simples de imitar a vida, o atrapalhou até que pudesse escrever para o palco. Mas sua sabedoria de escritor e artista esteve em superar a dificuldade e encontrar no tempo os avanços dentro dos retrocessos, e vice-versa, o que se traduz em modos irregulares de projetar nas particularidades os movimentos gerais. Se por um lado isso significou a incorporação relativa de um método crítico, o marxismo, que permite observar as pressões da luta de classe (e da mercantilização da vida) nos atos das pessoas comuns, por outro lado, seu próprio aprofundamento dialético o levou a considerar o quanto a classe operária também deve ao “sabotador desconhecido”, aquele que sinaliza o movimento de superação da própria condição de classe.
A impressionante consciência teórica que Brecht tinha dessas questões, como apontam os textos sobre a dialética entre a Dramaturgia Planetário e a Dramaturgia Carrossel, em A compra do latão, só não é maior do que sua capacidade poética de dar forma teatral a essas percepções. E como a dialética incide sobre o próprio drama, caberia ao artista trair, num movimento de negações que visam à superação, os próprios esquemas teórico-composicionais.
Uma passagem do Diário de trabalho indica o modo cuidadoso como esse escritor único dedicava-se, como um artesão, às questões da fatura:
Fazer pequenas correções na Alma Boa está me custando tantas semanas quantas foram os dias que levei a escrever as cenas. Nada fácil, dado o objetivo definido: impregnar as minúsculas subcenas do elemento de irresponsabilidade, acidente, transitoriedade, que chamamos vida. (26)
A procura de inteligibilidade, que tanto anima sua obra, em relação a processos que sabia incompreensíveis é também, paradoxalmente, a procura da transitoriedade de atitudes mais “ingênuas, mas vívidas, mais desesperadas” (27).
O velho e o novo
O Grande Método cultivado por Brecht só confirma a força da atitude dialética quando livre de qualquer mecanicismo teleológico. Seu trabalho se ergue sobre categorias móveis, imaginativas, por sua vez negadas pela realidade dos materiais de arte. Ela mostra visões formais válidas num momento e circunstância determinados, que após um tempo e noutra circunstância já não são, mas que resguardam sua disposição ao dinamismo.
Me-ti dizia: “As experiências se transformam muito rapidamente em juízos. […] A maioria das pessoas se lembra dos juízos, acreditando que eles correspondem às experiências reais”. Sobre isso Me-ti sugere: “E está claro que os juízos não são tão confiáveis como as experiências. Para conservar frescas as experiências é preciso uma técnica especial que permita tirar delas continuamente juízos novos”(28).
Brecht produziu modelos imaginativos capazes de gerar juízos novos. Sua dialética não pode ser deduzida dos conceitos, de sua história ideológica, mas de seus vínculos históricos com práticas possíveis. “É preciso deduzir a dialética da realidade”, era uma de suas frases recorrentes. Mesmo no período norte-americano, quando avaliou com clareza a insuficiência de qualquer utilização do marxismo como “desnudamento”, a tentativa era deixar as ferramentas críticas em condições de uso:
O sensacional desnudamento das práticas comerciais nos países burgueses indicou que o marxismo surgiu como um iluminismo, efeito que não é possível aqui. Aqui você se vê diante de um Estado instituído diretamente pela burguesia, que em nenhum momento se envergonha de ser burguesa. (29)
Nos últimos anos de vida em Berlim, quando trabalhava no Berliner Ensemble, sob a vigilância e perplexidade dos dirigentes da República Democrática Alemã, esteve muito atento à necessidade de persistir na crítica ao fetichismo mercantil (também no campo da cultura) e na ativação da luta de classes (mesmo num lugar aparentemente socialista).
Como instrução pedagógica aos jovens aprendizes do Berliner Ensemble, ele pedia que saíssem às ruas à procura de acontecimentos que envolvessem tempos contraditórios. Começava aí o aprendizado do escritor dialético, na procura da luta entre o velho e o novo, na composição de imagens capazes de deflagrar processos: “O Grande Método permite discernir processos nas coisas e aproveitá-los. Ensina a formular perguntas que tornam possível a ação” (30).
Todo o teatro de Brecht é atravessado por imagens de anacronismos e progressos, momentos da contradição entre atitudes antigas e novas. Em A boa alma de Setsuan já existem aviadores e ainda existem deuses. Épocas diversas convivem num tempo único.
Na lírica, são muitos os versos que repõem o embate do tempo, como os do poema Tempos modernos:
“Meu avô já vivia numa época nova / Meu neto talvez ainda viva na antiga. […] As novas antenas continuam a difundir velhas asneiras / A sabedoria segue passando de boca em boca”(31).
Quando muda a Lua, a nova segura a velha por uma noite em abraço. O interesse por essas imagens que repõe o movimento precisa ser ensinado. Nos últimos anos, Brecht lidou com a questão, tão atual, de que tudo parecia evidente demais. Como tendência de espírito, ele sempre parecia estar mais atento às novas coisas ruins do que às velhas coisas boas. Mas, dialeticamente, sua obra final se modela pela ideia de que “querer o novo é antiquado, o que é novo é querer o velho”(32).
A título de contradição com a estabilização dominante, interessado radicalmente no futuro, Brecht não queria sucumbir ao “confusionismo” que depois impregnaria tantos artistas pós-modernos.
Para ele, sempre interessado na alegria da ação, os elementos compreensíveis de uma obra de arte só podem ser apresentados na sua relação com os aspectos obscuros e mesmo incompreensíveis. No interesse disso, a obra precisa oferecer condições de materialização da atitude crítica, em face do estrago em curso. Recusando sempre um sentimento trágico diante do fetichismo da mercadoria e da desorganização da luta de classes, ele procura combinar formas ao mesmo tempo experimentais e classicamente imitáveis, mobilizadoras do trabalho coletivo.
Num de seus mais belos textos dos anos finais, Os dias da Comuna, uma personagem diz durante uma assembleia: “o grau de civilização se mede pelo último dos homens do povo”. Na mesma época, ele avaliava com seus colaboradores que era preciso imprimir nas peças uma ingenuidade capaz de motivar o trabalho do pensamento e da imaginação. A obra precisava repor o passado, construir contradições onde elas parecem ter desaparecido, para que o espectador tivesse condições de atuar sobre o presente.
Talvez esteja aí a beleza de Os dias da Comuna, que fala das dificuldades da política, da chance histórica de uma libertação coletiva e da força do capital em desorganizar sua contestação.
Manfred Wekwerth, que colaborou com Brecht nesse tempo, dizia que são as reações ingênuas que o teatro pode suscitar que “transmitem ao pensamento o núcleo ardente da ação, no sentido de uma experiência que mobiliza novos conhecimentos e critérios, e que converte o pensamento puro no pensamento ativo tão apreciado por Brecht”(33).
Talvez fosse isso que Brecht entendesse como atitude clássica:
“Os clássicos têm dentro de si um elemento de imitabilidade. Um clássico só é extraordinário na medida em que se aproxima, aperfeiçoa obras similares que o inspiraram e o tornaram possível” (34).
Mas modelar o passado é compreendê-lo como parte do futuro. Para além de qualquer dimensão estética, interessa nessa atitude seu sentido de participação numa grande produção. Era assim que Brecht entendia o socialismo, como libertação do direito à produtividade em todas as instâncias, fazer pão e fazer música.
(Este texto é uma versão ligeiramente atualizada do ensaio “Brecht e a dialética” publicado no livro Pensamento alemão no século XX. Org. Jorge de Almeida e Wolfgang Bader. São Paulo: Cosac Naify; Instituto Goethe, 2013.)
NOTAS
1 BRECHT, Bertolt. “Da livre utilização de um modelo: prefácio ao Modelo de Antígona 1948”. In: Teatro dialético. Tradução Luiz Carlos Maciel. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1967.
2 Utilizo-me aqui de pontos de vista teóricos apresentados no Trabalho de Brecht, de José Antonio Pasta Jr. (São Paulo: Editora 34, 2010), e Brecht e a questão de método, de Fredric Jameson (São Paulo: Cosac Naify, 2013), e de observações práticas ligadas ao trabalho do grupo teatral Companhia do Latão.
3 A anotação é de 9 de maio de 1942. BRECHT, Bertolt. Diário de trabalho: 1941-1947. Tradução Reinaldo Guarany e José Laurenio de Melo. Rio de Janeiro: Rocco, 2005, v. 2, p. 101.
4 BRECHT, Bertolt. “O teatro experimental”. In: Teatro dialético, cit., p.129.
5 “O teatro experimental”, cit., p. 126-130.
6 A transcrição de parte das discussões que aconteceram entre Bertolt Brecht, Erwin Piscator e Fritz Sternberg em Berlim entre 18 e 24 setembro de 1928 está em “Reflexões sobre tambores na noite”. Vintém: teatro e cultura brasileira, São Paulo, Companhia do Latão, n.7, 2009, p. 68-74.
7 “O teatro experimental”, cit., p. 130.
8 Texto inspirado no romance incompleto As aventuras do bravo soldado Schweik, de Hasek.
9 BRECHT, Bertolt. A compra do latão (1939-1955). Tradução Urs Zuber e Peggy Berndt. Lisboa: Vega, 1999, p. 103.
10 Ibidem, p. 131.
11 A compra do latão (1939-1955), cit., p. 120-21.
12 São desse período as mais importantes reflexões de Brecht sobre a forma mercadoria no campo da cultura, entre as quais o chamado O processo do filme A ópera dos três vinténs, decorrente do caso jurídico contra o estúdio de cinema que filmou sua peça.
13 “Teatro experimental”, cit., p.135.
14 Veja-se a anotação de 15 de janeiro de 1941. BRECHT, Bertolt. Diário de trabalho: 1938-1941. Tradução Reinaldo Guarany e José Laurenio de Melo. Rio de Janeiro: Rocco, 2002, v. 1, p. 160.
15 CONRADO, Aldomar (Org.). O teatro de Meyerhold. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1969, p.171. As citações anteriores referem-se ao mesmo trecho.
16 Os formalistas russos consideravam o “estranhamento” como um procedimento fundamental da arte de seu tempo. Peter Burger afirma que “o reconhecimento da generalidade dessa categoria é possibilitado pelo fato de que, nos movimentos históricos de vanguarda, o choque do receptor se transforma no mais elevado princípio da intenção artística”. Chklóvski enxerga o procedimento em escritores do passado como Cervantes e Sterne. (Cf. BURGER, Peter. Teoria da vanguarda. Tradução José Pedro Antunes. São Paulo: Cosac Naify, 2008, p. 51).
17 BRECHT, Bertolt. “Os efeitos de distanciamento na arte dramática chinesa”. In: Estudos sobre teatro. Tradução Fiama Pais Brandão. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1978, p. 57.
18 BENJAMIN, Walter. “O que é teatro épico”. In: Magia e técnica, arte e política: Ensaios sobre literatura e história da cultura. São Paulo: Brasiliense, 1985, v. I (Obras Escolhidas), p. 85.
19 Veja-se a esse respeito o texto de Brecht “Breve descripción de una nueva técnica de arte dramático que produce un efecto de distanciamiento” In: Escritos sobre teatro, Tradução Nélida Mendilaharzu de Machain. Buenos Aires: Nueva Vision, 1970, p. 174.
20 BRECHT, Bertolt. “Me-ti, livro de lós câmbios”. In: Narrativa completa 3: Historias del senõr Keuner; Me-ti, libro de los câmbios. Tradução Juan José del Solar. Madri: Alianza Editorial, 1991, p. 123, tradução nossa.
21 Diário de trabalho: 1938-1941, cit., p. 27.
22 Diário de trabalho: 1938-1941, cit., p.27. 23 Ibidem, p. 30.
24 Diário de trabalho: 1938-1941, cit., p. 28.
25 Diário de trabalho: 1941-1947, cit., p. 79-80.
26 Diário de trabalho: 1938-1941, cit., p. 104, grifo do autor. 27 Ibidem, p. 127
28 “Me-ti, libro de los câmbios”, cit., p. 82, tradução nossa. 29 Diário de trabalho: 1941-1947, cit., p. 59.
30 “Me-ti, libro de los câmbios”, cit., p. 106, tradução nossa.
31 BRECHT, Bertolt. “Tempos modernos”. In: Poemas. Tradução Arnaldo Saraiva. Lisboa: Editorial Presença, 1976, p. 79, alteramos a tradução.
32 Diário de trabalho: 1938-1941, cit., p. 134.
111
33 WEKWERTH, Manfred. “Teatro ¿Una respuesta de Brecth a nuestro tiempo?” ADE Teatro: Revista de la Asociación de Directores de Escena de España, Madri, n. 104, 2005, p. 168.
34 Diário de trabalho: 1941-1947, cit., p. 175. Essa passagem do Diário de trabalho inspira o magistral O trabalho de Brecht, de José Antonio Pasta Jr.