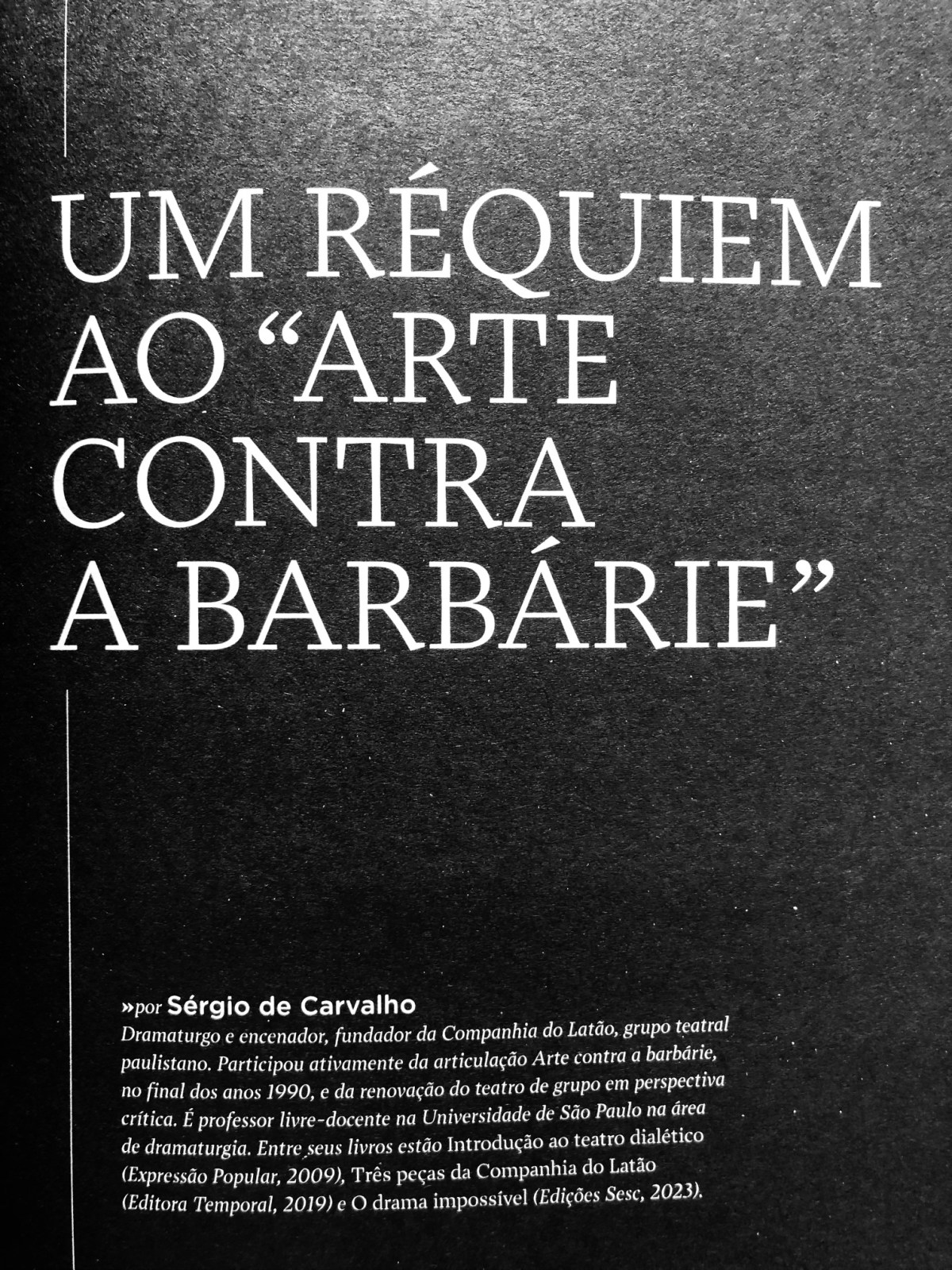Muito já se escreveu sobre o movimento Arte Contra a Barbárie, organizado por artistas e grupos teatrais da cidade de São Paulo no ano de 1999, a partir de reuniões e encontros improvisados, em torno da crítica à mercantilização da cultura e à miséria das políticas públicas para a cultura no Brasil. Haveria algo a dizer mais de 20 anos depois, que não soe como um canto mortuário?
Como sou convidado a falar sobre isso, procuro evocar, em primeiro lugar, as razões do impacto público improvável que aquele movimento, a princípio tão pequeno, chegou a ter. Acredito que a repercussão gerada após a publicação do primeiro Manifesto, num jornal de grande circulação nacional, se devia ao estilo “modernista” e a um certo idealismo estético que punha a palavra Arte no lugar de Socialismo, como uma espécie de barricada humanista difusa, que não especifica quem são os bárbaros. Foram, assim, razões de ordem jornalística, estilística e ideológica que contribuíram para a repercussão. Por outro lado, o manifesto continha um forte movimento negativo em relação à mercantilização da arte:
“O Teatro é uma forma de arte cuja especificidade a torna insubstituível como registro, difusão e reflexão do imaginário de um povo. Sua condição atual reflete uma situação social e política grave. É inaceitável a mercantilização imposta à Cultura no país, na qual predomina uma política de eventos. É fundamental a existência de um processo continuado de trabalho e pesquisa artística. (…) A atual política oficial, que transfere a responsabilidade do fomento à produção cultural para a iniciativa privada, mascara a omissão que transforma os órgãos públicos em meros intermediários de negócios. (…) A maior das ilusões é supor a existência de um mercado. Não há mecanismos regulares de circulação de espetáculos no Brasil. A produção teatral é descontínua e no máximo gera subemprego.”
Nos meses seguintes, como se sabe, o Arte contra a Barbárie cresce, deixa de ser um pequeno grupo de teatristas de várias gerações, e se torna um movimento relativamente barulhento e articulado, com assembleias em teatros importantes, ramificações (como a publicação do jornal O Sarrafo), tornando-se capaz de abrir caminho uma realização importante, a Lei de Fomento ao Teatro para a Cidade de São Paulo, conquista histórica até hoje excepcional no que se refere a um programa público para as artes no Brasil. Em toda essa primeira fase, num tempo de refluxo social, o movimento demonstrou a força inesperada dos “afogados”, como já observou Paulo Arantes, e conseguiu oferecer uma pauta crítica em relação à mercantilização cultural, além de estabelecer, por outro lado, uma referência para programas públicos voltados a ações estruturantes, para uma arte coletivizada, contínua, e de interesse social, que não poderia existir como “negócio” pois para ela nunca haveria um “mercado”. Na observação de Luiz Carlos Moreira, o maior responsável pela redação da Lei de Fomento, o Estado era pela primeira vez, em São Paulo, “obrigado a pôr dinheiro num sujeito histórico que não é o mercado, numa outra forma de estruturar a produção, o núcleo artístico com trabalho continuado.”
Ninguém, na época, ignorava que também as contradições entre o lado mais radical e o lado mais conservador do movimento nos empurravam para uma aproximação inédita (e perigosa) à possibilidade real de propormos nós mesmos um modelo diferente de política cultural para o Estado. A demanda de arte como serviço social, a tentativa de discutir a função pública da produção cultural subsidiada, eram também ecos tardios de um culturalismo de tipo burguês (de inspiração revolucionária) que deveria afirmar valores pretensamente universais em termos democráticos, formativos, populares, nacionais, para além da cultura do favor, dos privilégios, e das hierarquias dadas.
Assim, na contramão das tendências do tempo, e alimentados por um certo espírito “cidadão” (eu na época recebi a encomenda da Prefeitura de organizar o ciclo de debates O Teatro e a Cidade; as palavras “cidadã” e “cidadão” estavam nos banheiros do grupo Folias etc.), fomos capazes de realizar uma abertura de caminhos que sabíamos ser provisória e insuficiente. A verdade, contudo, é que o lado mais radicalmente anticapitalista do primeiro momento do Arte contra Barbárie seria rapidamente neutralizado, mesmo antes da Lei de Fomento, por seu lado mais difusamente “citoyen”.
Não é possível, na brevidade deste comentário, avaliar as razões disso. A demanda de uma outra política pública, que não fosse somente gestão de negócios, nos termos de uma cultura realmente democrática, era feita no primeiro Arte Contra a Barbárie como consciência da desagregação, aquilo que Roberto Schwarz definiu como a “impossibilidade crescente, para os países atrasados, de se incorporarem enquanto nações e de modo socialmente ao progresso do capitalismo” (199, p.160). Naquele fim de milênio, sabíamos que o mesmo governo neoliberal que assumia cinicamente a inviabilidade da nação brasileira considerava-se um importador de modernização e de racionalidade globalizada. A cultura, em meio a isso, se tornava um lugar de gozo da perspectiva atualizadora, com a injeção inesperada e cada vez maior de dinheiro para grandes eventos, espetáculos midiáticos e a criação de novos espaços culturais, com recursos de renúncia fiscal, através da chamada “Lei Rouanet” ou outras modalidades de “parcerias público-privadas”. Eram tempos de amplo crescimento de uma cultura privatista com fundos públicos, que produziram novas estruturas e modificaram a cadeia produtiva da arte da cidade. No contrafluxo disso que nossa pauta foi construída.
Anos depois, quando comemoramos 10 anos da Lei de Fomento, não havia dúvida de que esses impulsos críticos iniciais já estavam todos neutralizados e diluídos, como se pode ver num livro publicado na ocasião pela Cooperativa Paulista de Teatro (Teatro e Vida Pública: o Fomento e os Coletivos Teatrais em São Paulo. Organizado por Flávio Desgranges e Maysa Lepique, 2012.). Morto o lado anticapitalista do movimento, ampliava-se sua sombra “republicana”.
Há pontos concretos nessa tendência. A Lei de Fomento foi um experimento único, muito combatido, também porque o movimento teatral não conseguiu produzir nenhum outro programa que a tirasse de seu isolamento (como o Prêmio do Teatro Brasileiro). E a própria letra da Lei era preservada às duras penas, sendo seu espírito alterado pelas sucessivas comissões de premiação. A atenção a “outra forma de estruturar a produção” deixou de ser o critério importante nas avaliações. Em paralelo, produziram-se Brasil afora, na Era Lula – nos anos que antecederam a deposição antidemocrática da presidenta Dilma – diversos programas de política cultural, poucos deles de sentido estruturante, como foram os Pontos de Cultura. Cresceu no período aquele suposto republicanismo de tipo cidadão, através da forma concorrencial do edital público, que passou a transferir mais recursos para produtores culturais. O medo da acusação de intervencionismo fez com que pouquíssimas ações federais fossem realizadas a partir do reconhecimento de qualidades culturais que exigem ação ou colaboração direta do Estado.
A forma “editalística” (política de editais) se expandiu cada vez mais tecnificada, num período em que os aparelhos públicos brasileiros (o que incluía prefeituras e governos estaduais) foram sucateados e semi-privatizados, como ocorreu na Cultura de São Paulo. O maior dinheiro para os artistas, que por conta disso se multiplicaram, contribuiu para um estado de espírito concorrencial generalizado, ampliando-se o individualismo das ações. O Estado abria mão de seus espaços e ações culturais e injetava dinheiro aleatório numa idealizada “economia criativa”. Cresceu, assim, a semi-profissionalização com a maior oferta de “oportunidades”, numa inclusão mais simbólica do que real de populações que acreditaram no humanismo da arte porque puderam ter alguma breve experiência mercantil, abrindo-se, também nos grupos mais antigos, as “portas para o subemprego, intermitente, porém sublimado pela aura artística” (Arantes, 2004, p.106). O antigo amadorismo artístico livre, que tinha um fim em si mesmo e produzia autonomia e novidades criativas, foi pouco a pouco extinto, ou restrito às escolas ou igrejas neopentecostais. As forças artísticas emergentes rapidamente aprenderam a se orientar, antes de qualquer amadurecimento, para a possibilidade de participar de algum simulacro de mercadoria, num mundo em que não há produtores reais, em que todos são capazes de alguma espetacularização breve e semi-lucrativa, como confirma a internet.
O que veio depois disso, nos anos dos fascistas eleitos democraticamente, foi ainda pior. A “guerra cultural” por eles proposta tinha agentes bem preparados, não apenas na máquina do estado, mas nas igrejas e “fazendas” tecnológicas. Foram quatro anos de violências, ampliação do imaginário nazista, supressões. A sequência desse modelo hoje, em âmbito estadual, nos faz ver que é pior a extinção de uma oficina cultural do Estado do que vê-la sendo administrada por uma Organização Social gerida “republicanamente”, ainda que a semi-privatização seja de fato um modo muito discutível de se realizar uma gestão cultural pública.
A questão importante do primeiro manifesto do Arte Contra a Barbárie era a contradição entre um processo artístico-cultural verdadeiro e as formas mortuárias da mercantilização. A barbárie a que nos referimos (ao menos alguns de nós) era a forma-mercadoria universalizada. A demanda de uma política pública regular, estruturante, de longo prazo, para produtores de arte que jamais poderiam ou deveriam servir à forma-mercadoria pede, por outro lado, uma atividade social de períodos revolucionários. Sem algum elemento dessa perspectiva utópica seguimos hoje na triste ilusão da distribuição de recursos para uma “economia criativa” imaginada sem as condições da autonomia mercantil, que se oferece como alternativa à filantropia populista ou ao fascismo cultural. O réquiem do Arte contra a Barbárie é entoado neste ano de 2024 em meio à esperança difusa de alguma “retomada”, advinda da cantilena dos ritos concorrenciais de tantos editais Brasil afora, aberrações técnicas que produzem novos “quase mercados”, quase inclusões, e mais sujeitos-dinheiro-sem-dinheiro, sem meios ou interesse em garantir espaços e tempos para uma produtividade livre e comunitária. Como em 1999, o que temos ainda hoje, nos termos do Manifesto antigo, é a “omissão que transforma os órgãos públicos em meros intermediários de negócios”.
REFERÊNCIAS
ARANTES, Paulo. “Documentos de cultura, documentos de barbárie: o sujeito oculto de um manifesto.” Em Zero à Esquerda, São Paulo: Conrad, 2004.
DESGRANGES, Flávio; LEPIQUE, Maysa (Orgs.). Teatro e Vida Pública. O Fomento e os Coletivos Teatrais em São Paulo. São Paulo, Hucitec, 2012.
SCHWARZ, Roberto. Sequências brasileiras. São Paulo: Companhia das Letras, 1999.
(Publicado originalmente no livro Sociedade e teatro a contrapelo, do Coletivo Comum, 2024.)